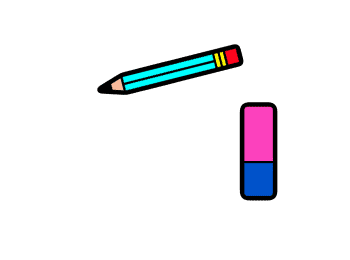O confinamento pô-la a desenvolver o projeto «Bode Inspiratório», que, neste momento, envolve mais de uma centena de pessoas. Apesar de ter dias «a mil à hora», Ana Margarida de Carvalho, vencedora do Prémio Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 2013 e 2016, participará nas celebrações do primeiro Dia da Língua Portuguesa promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa. Para esta escritora, «a literatura tem de servir de repositório da língua portuguesa para as próximas gerações».
Dia 5 de maio de 2020 marca a celebração do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa. É justo que a celebremos?
Tendo em conta que é uma língua falada por tantos milhões de pessoas, que ultrapassa as fronteiras de um pequeno país como Portugal e vai até à Ásia, África e Brasil, penso que, apesar de tudo, é uma língua muito confinada, muito insular. O número de falantes não tem uma correspondência na dimensão da sua literatura. Isso faz-me muita pena. É uma língua versátil, com vocábulos que recuperamos a autores antigos, que acolhe vocábulos novos, com particularidades complexas, e isso dá-lhe uma plasticidade muito grande. Eu gosto desta língua, não só por ser a minha, por ser o rio que corre na minha aldeia, mas porque é a língua que fala Camões, Eça e Machado de Assis, Saramago, entre tantos autores que admiro.
Pegando na sua ideia de insularidade, há um arquipélago de línguas, como o português do Brasil, de Angola, de Portugal, de Cabo Verde e por aí fora?
É interessante ver a coisa assim, ver a língua como um arquipélago. Mas haver essa variedade é uma riqueza. Nós, Portugueses, temos pouca flexibilidade na adoção de vocábulos novos. Os Brasileiros, ao contrário, têm uma enorme riqueza na sua oralidade. Como eles nos influenciam, acabamos por incorporar essas novidades na nossa linguagem.
Fico muito satisfeita quando surge uma palavra nova ou quando surge um significado novo para uma palavra que já existia. Nos anos 90, foi inventada a expressão «música pimba». Antes, não tínhamos maneira de classificar esse tipo de música. Há pouco tempo, surgiu a «geringonça». Antes, era a descrição de uma maquineta e agora tem um novo significado. Isso é muito enriquecedor. O que me parece triste é que pessoas muito puristas da língua ficam afrontadas com o caos que é o Acordo Ortográfico, mas não os vejo a defender a literatura com o mesmo afinco. E é a literatura que serve de repositório da língua para as próximas gerações.
Faz falta essa defesa da literatura à língua portuguesa?
Há tanta coisa para fazer. Quando digo que a língua portuguesa está confinada, ainda que esteja espalhada por cinco continentes, é sinal de que há muito por fazer. O marketing da literatura anglo-saxónica é muito forte e traz-nos coisas que são perfeitamente banais, mas que o público acolhe. Temos autores portugueses que são tão bons como os que importamos, só que não são conhecidos do público.
Pedem aos escritores que sejam fáceis de serem lidos, aos jornalistas também. A internet tem uma linguagem cada vez mais acessível para hipnotizar os leitores. Considera que a língua e a linguagem estão a ser desvalorizadas?
Quando dizem que devo ser acessível no que escrevo, nem compreendo a questão. Porque hei de simplificar se posso complicar? Qual é a graça, o jogo, o estímulo, o desafio? Os leitores não são inteligentes ao ponto de me perceberem? Recuso-me a ser arrogante a esse ponto. Ser simples para quê? Para ter likes? O facilitismo até me repele. O pretensiosismo rebuscado ou falso deve ser evitado, mas só faremos coisas com interesse se fugirmos à banalidade para não nos repetirmos eternamente ou nos limitarmos a papaguear lugares-comuns.
É estranho participar num festival por streaming?
Não me oferece grande estranheza, na verdade. Sou quase uma profissional da quarentena. Estava no Vietname quando apareceu o surto na China e resolvi ficar fechada em minha casa ainda mal se falava disto.
Esteve no Vietname no final do ano passado?
Não. Voltei em fevereiro, quando isto ainda era uma coisa remota que havia na China. Fui ao centro de saúde e não me ligaram nenhuma. Mas, por causa da minha mãe, que tem algumas fragilidades, resolvi fazer uma quarentena voluntária. Depois, estive na Póvoa de Varzim, onde houve o triste caso do Luis Sepúlveda, e voltei a ficar de quarentena. E agora está o país todo em confinamento social. Nunca falei tanto por Skype, Zoom, Facebook, WhatsApp como agora. Estou envolvida no projeto «Bode Inspiratório», que me obriga a estar quase sempre online. Esta situação não é normal, mas já me parece estranha.
A dicotomia entre ficção e verosimilhança é um tema importante dos seus romances. Vivemos uma realidade inverosímil. São tempos interessantes para um escritor?
O quotidiano interessa-me pouquíssimo enquanto escritora. Era incapaz de escrever um livro sobre a quarentena ou de fazer um diário sobre isto. Acredito que aparecerão vários livros sobre a quarentena e acabarei por ler alguns. Provavelmente aqueles que escaparem ao imediato e ao óbvio.
Mas escreveu sobre situações de confinamento…
Passei a minha curta vida literária a escrever sobre situações de confinamento, de aperto, de ameaça exterior. Que Importa a Fúria do Mar passa-se no Tarrafal e fala de um homem que está preso a um amor impossível que o desgasta a vida toda. Não Se Pode Morar nos Olhos de Um Gato é passado numa praia que submerge na maré cheia e onde as personagens ficam confinadas numa reentrância na rocha até ficarem todas como o mesmo cheiro e a mesma pele, quase com a mesma identidade. Pequenos Delírios Domésticos tem este nome porque todos os contos se passam em ambientes domésticos sufocantes e opressores. E O Gesto Que Fazemos para Proteger a Cabeça passa-se em comunidades fechadas, em aldeias cercadas pelo medo, pela ameaça.
Reconhecer os limites de uma comunidade obriga a reconhecer que também há o outro. Esse é um conceito importante na sua escrita. Vivemos tempos cheios de julgamentos morais: aqueles andam na rua e não deviam, os Chineses isto, os Americanos aquilo. São tempos difíceis para a empatia?
É uma coisa sobre a qual tenho pensado muito. E essa descrição é absolutamente verdadeira. O mais irónico é que temos pessoas na rua a queixarem-se de ver pessoas na rua, não pensando que elas próprias estão na rua. As restrições só são válidas para os outros? As pessoas têm dificuldade em pôr-se na pele dos outros. Mais facilmente se põem na pele do empresário riquíssimo do que na do pobre desgraçado que depende de um salário que será reduzido drasticamente. A falta de noção de alteridade e de empatia e a incapacidade em pormo-nos na pele dos mais desfavorecidos são inquietantes.
Usa essa incapacidade nos seus livros?
Gosto de jogar com isso. Dou pistas ao leitor para o lançar numa determinada direção e depois revelo que nada é óbvio e nem tudo é o que parece. No meu segundo livro, tenho uma personagem que é um escravo, que teve uma vida horrível, cheia das piores atrocidades, mas que não é necessariamente uma pessoa boa. O nosso preconceito é fortíssimo. Rapidamente retratamos e etiquetamos uma pessoa. Nada é aquilo que parece ser, isso é uma ideia que me persegue.
Qual é o melhor treino para ser uma escritora: ser filha de Mário de Carvalho ou 25 anos de jornalismo?
O jornalismo ensinou-me a perder o temor de escrever rapidamente, com nexo e com alguma coerência. Mas na literatura devo fazer tudo ao contrário do jornalismo.
Então?
A notícia tem de ser verdadeira, tem de cumprir um código deontológico. Na literatura não quero eficácia, quero construir textos a partir do telhado. Não quero que um livro meu seja um objeto útil. O bonito da arte é a sua inutilidade. Uma entrevista ou uma notícia são linguagens denotativas, procuram a verdade. Na literatura, a linguagem é conotativa e busca a verosimilhança, tal como referimos no início desta conversa.
O que está a escrever?
Rigorosamente nada. Estou a trabalhar a mil à hora. O projeto «Bode Inspiratório» consome-me os dias porque cresce como se fosse um monstro que precisa de ser alimentado. Estou dedicada a isto, com um trabalho mais de edição do que de escrita.
Fez essa paragem na escrita porque precisa de ter algum distanciamento entre romances? Como se voltasse à superfície para ganhar fôlego antes de mergulhar outra vez?
Isso faz imenso sentido. Quando acabo um romance, sinto-me esvaziada e preciso de me reabastecer. Escrever o meu último romance foi duro porque não havia só um fio, havia muitos. Precisei de fazer uma costura para juntar toda essa trama. Isso exige uma concentração muito forte. O que parecia uma amálgama de confusão foi ganhando um sentido. Gosto que o leitor depare com o caos e que, depois, encontre uma reta mais fina. Esse livro foi escrito ao ritmo de quem caminha. Não para. Tem seis capítulos e apenas seis pontos finais. Passa-se entre dois entardeceres, em 48 horas, mas há memórias que são resgatadas, passados que se tornam presentes. Foi um trabalho exigente. Por isso, a seguir a um romance não me apetece começar outro. Preciso desse momento para respirar, para vir à tona, e é onde estou agora.